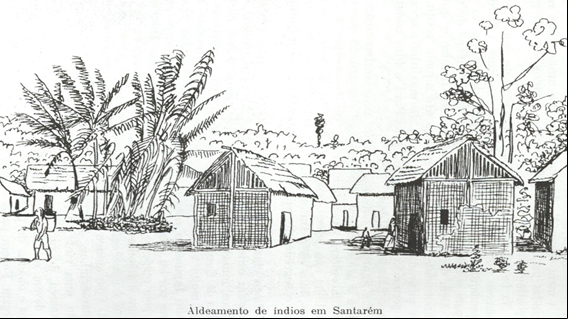 |
|
Aldeamento de índios em Santarém (1828). IN: FLORENCE, Hercules. Viagem Fluvial do Tietê ao Amazonas de 1825 a 1829. Manaus, 2001. 6o3o2f |
Às vésperas da Cabanagem: Mesmo com a proibição legal, desde o fim de 1831, de obrigar indígenas a trabalhar, era imensa a pressão para que isso continuasse conforme os antigos costumes. O desvio da regra legal aumentou a pressão social às vésperas da Cabanagem
por André Roberto de A. Machado
Em 1832, o presidente da província do Grão-Pará era Machado de Oliveira. Ele assumia a província num cenário de grande agitação social: o seu antecessor legal tinha sido o Visconde de Goiana, que não resistiu no cargo nem por 20 dias, caindo em 7 de agosto de 1831. As razões para a queda de Goiana são complexas, mas é inegável que ele dificultou o o a indígenas para o trabalho compulsório ao fechar algumas Fábricas Nacionais, instituições das quais falaremos adiante. Somava-se a esse cenário conturbado uma grande novidade: no final de 1831, o Congresso Nacional decidira acabar com a Milícia de Ligeiros, que no Pará era o grande mecanismo de recrutamento de indígenas para o trabalho forçado, tanto para o Estado como para particulares.
Machado de Oliveira, posteriormente, viria a ser Diretor Geral dos indígenas em São Paulo, escrevendo ainda alguns textos sobre esses povos. Ao chegar à presidência do Pará, suas atitudes deixam claro que pretendia cumprir a ferro e fogo a decisão do Congresso de vetar o recrutamento forçado de indígenas para o trabalho. As cartas das vilas do interior com a presidência nesse período são muito interessantes: em algumas delas, a descrição dá a entender que o recrutamento forçado de indígenas continua, a despeito de qualquer proibição. Em outras cartas, os relatos são desesperados frente à recusa dos indígenas em trabalhar, pedindo-se que a presidência faça alguma coisa para os obrigar. Em todas as respostas, a posição de Machado de Oliveira foi sempre a mesma: a de negar a possibilidade de forçar os indígenas ao trabalho.
No entanto, as convicções de Machado de Oliveira e sua relação com as vilas do interior sofreriam abalos em torno de uma situação que ele precisava resolver urgentemente: cabia a Machado de Oliveira conseguir trazer a madeira que estava disponível em várias Fábricas Nacionais que, como dissemos, também tinham sido extintas em 1831. Fábrica Nacional era um nome genérico para instituições públicas que tinham funções sobretudo extractivistas e empregavam basicamente indígenas sob trabalho compulsório. Aliás, foi justamente essa característica que serviu de justificativa para que a Junta da Fazenda, presidida pelo então Visconde de Goiana, abolisse várias Fábricas Nacionais: sublinhava-se que nessas Fábricas Nacionais os indígenas trabalhavam obrigados, sob a mira de armas, e que isso era contrário aos direitos desses homens garantidos pela constituição. Entre as várias Fábricas Nacionais extintas, estavam algumas que se dedicavam a produzir madeira. É possível encontrar pelo menos quatro – nas vilas de Monte Alegre, Moju, Acará, Igarapé-mirim – que rapidamente foram alvo da ação de Machado de Oliveira. A madeira era um recurso considerável que o presidente não podia deixar estragando no interior, o que tornava urgente trazê-las para o Arsenal da Marinha. Assim, a tarefa de trazer a madeira das extintas Fábricas Nacionais foi divida em duas frentes: a primeira na região mais próxima a Belém e Cametá, com as Fábricas do Moju, Acará e Iguarapé Mirim. A segunda frente estava na região de Santarém, por conta da Fábrica de Monte Alegre.
As duas frentes viram-se na impossibilidade de dar conta da tarefa por falta dos trabalhadores costumeiros: indígenas submetidos a trabalho forçado. O caso de Monte Alegre mostra claramente o esgarçamento das relações entre as vilas do interior e a presidência por conta da postura de Machado de Oliveira que pretendia cumprir o fim da Milícia de Ligeiros. Em 11 de agosto de 1832, Machado de Oliveira mandava uma carta bastante assertiva ao juiz de paz de Monte Alegre em relação à Fábrica Nacional de Madeiras da vila, na qual, além de confirmar que ela estava extinta, ordenava que a madeira existente devia ser trazida para a capital. A rigidez do presidente se manifestava justamente em relação a como fazer isso: literalmente, dizia que os indígenas não poderiam mais ser obrigados a trabalhar. Ao contrário, deviam ser convencidos a trabalhar e serem pagos como o combinado. Pouco mais de um mês depois, a resposta da câmara da vila parece uma provocação explícita ao presidente: em tom irônico, os camaristas dizem que cumpriram a instrução da presidência e lançaram um edital convidando os moradores que queriam trabalhar nos serviços públicos para que se acertassem com o procurador, sendo que ninguém se apresentou. A câmara, então, joga o problema para o presidente e diz que espera instruções sobre como cumprir as leis diante dessa situação. Mas a câmara se adianta: diz, literalmente, que os moradores dali jamais trabalhariam se não fossem obrigados.
Na outra frente, a situação foi quase idêntica. No entanto, como temos um número maior de correspondências, é possível ver melhor a irritação de Machado de Oliveira e sua mudança de postura ao longo do tempo. Assim, em 18 de agosto de 1832, o presidente envia correspondência ao contramestre da marinha – Raimundo José Ferreira – avisando que já mandara instruções aos juízes de paz das vilas de Moju, Acará e Iguarapé-mirim orientando que cada um deles mandasse 15 indígenas para fazer o transporte das madeiras para o Arsenal. Por um lado, é interessante ressaltar que Machado de Oliveira não pede simplesmente trabalhadores: é explícita a solicitação de indígenas. Por outro lado, gasta muitas linhas para dizer como deveriam se conseguir esses trabalhadores: dando ênfase em um trabalho livre, ressalta que os indígenas deveriam ser pagos em 160 réis por dia, recebidos a cada quinzena, fora a ração. Também ressalta que deveriam ser dispensados ao fim do serviço. O tom da carta dá a entender que Machado de Oliveira considerava que esse era um assunto resolvido.
No entanto, a realidade mostrou-se mais complexa. Poucos dias depois, Machado de Oliveira sobe o tom em uma carta ao Juiz de Paz de Moju: diz que sete indígenas teriam ido a Iguarape mirim, mas foram embora por não encontrarem o encarregado. O presidente não esconde a irritação e diz que o número necessário de indígenas precisa ser rapidamente alcançado. Quase um mês depois, em 10 de setembro de 1832, Machado de Oliveira muda radicalmente de postura: em carta aos juízes de paz do Rio Moju, Acará e Igarapé-mirim diz que o contra-mestre responsável pelo transporte das madeiras já tinha chegado e não encontrou indígena algum. O presidente ordena que os indígenas sejam enviados o mais rapidamente possível. Ressalta mais uma vez que deve ser anunciado que eles serão pagos quinzenalmente, mas, se isso não bastasse, Machado de Oliveira determina que os indígenas deveriam ser obrigados a trabalhar. No mesmo dia, o presidente mandava outra carta ao contra-mestre carpinteiro, Raimundo José Ferreira, com o mesmo teor: dizia que a necessidade da construção de uma fragata no Arsenal da Marinha tornava urgente o transporte das madeiras. E, por conta disso, deixa claro que os indígenas deveriam ser obrigados a esse trabalho se não fosse possível convencê-los a ir voluntariamente. Aparentemente, nem a mudança de postura de Machado de Oliveira surtiu efeito. Oito dias depois, em 18 de setembro, o presidente mandou nova carta ao juiz de paz de Moju. Reconhece que se criou um ime porque os indígenas se recusavam a ir trabalhar, mesmo com o oferecimento de salários. Pede para que não se use violência, mas ite que os indígenas devem ser obrigados a trabalhar.
Quase um mês depois, em 15 de outubro de 1832, punha-se fim à missão de trazer as madeiras das extintas Fábricas Nacionais, com a completa desmoralização da autoridade de Machado de Oliveira. Em carta ao contramestre Raimundo José Ferreira, itiu que não foi possível conseguir trabalhadores suficientes para carregar as madeiras das Fábricas para o Arsenal. Explicitamente, disse não ter certeza se isso não foi possível pelas dificuldades encontradas ou porque suas ordens foram ignoradas. Manda então que o contra-mestre retorne à capital, trazendo, inclusive, a ração destinada aos operários que nunca chegaram.
Esses episódios mostram que o fim da Milícia de Ligeiros, em combinação com a continuidade da alta demanda por trabalhadores indígenas, tornava a situação política da província cada vez mais explosiva, pois cada vez mais o veto ao trabalho compulsório era infringido. Em alguns documentos, aliás, a letra morta da lei é explícita. Ainda que não tenha sido a causa exclusiva, parece certo itir que a pressão social e a resistência dos indígenas foram elementos que desaguaram na Cabanagem, pouco tempo depois.
Prof. André Roberto de A. Machado 3l3e
Professor da UNIFESP e coordenador do projeto Universal CNPq “Sempre obrigados ao trabalho: novas perspectivas sobre a exploração da mão de obra indígena e suas resistências, 1750-1900”, do qual esse blog faz parte.
E-mail: O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
SAIBA MAIS:
MACHADO, André Roberto de A. trabalho compulsório indígena no Grão-Pará: abrangência, conflitos e resistências entre o fim do Antigo Regime português e o início do Estado Nacional brasileiro (1821-31). HISTÓRIA (SÃO PAULO), v. 40, p. 1-30, 2021.
HENRIQUE, Márcio Couto. Escravidão ilegal e trabalho compulsório de índios na Amazônia (século XIX). In: Vânia Maria Losada Moreira; Mariana Albuquerde Dantas; João Paulo Peixoto Costa; Karina Moreira Ribeiro da Silva e Melo; Tatiana Gonçalves de Oliveira. (Org.). Povos indígenas, indenpendência e muitas histórias. 1ed.Curitiba: CRV, 2022, v. 1, p. 501-530.


